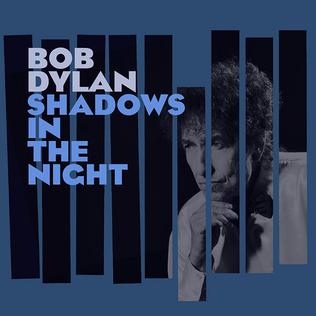Acervo do jornal (o verdadeiro) está agora na Internet
Esse blog está completando uma década. Isso é motivo de comemoração entre seus idealizadores, o Er, o Nildo e este que vos escreve ou mais precisamente, entre este que vos escreve e seus cinco ou seis leitores assíduos (nós oito ou, vá lá, nove), já que ele (o blog) vive dessa divertida relação primitiva entre o remanescente que vos fala, aquele (oi) que escreve e os que leem (vocês seis ou sete).
Às vezes o blog tem picos de visualizações de página - que eu considero inexplicáveis, Mesmo singrando longos hiatos, ele tem encontrado mitos incautos leitores que, através de ferramentas de busca, acabam achando alguma coisa postada por nós. Por exemplo, dia 10, o Google me listou 213 acessos que não foram de posts recentes.
Muitos desses "recordes" são, com efeito, relativos à postagens muito antigas - postagens que, confesso, na maioria das vezes, sequer lembro de ter postado. Sim, há muita coisa que escrevi aqui que não lembro de ter escrito.
Como se vê, nosso blog vai na contramão da imprensa moderna: é produzido para não ter recordes de cliques. Em matéria de entropia e hermetismo, por conseguinte, somos um sucesso.
Contudo, a média de visualizações por texto publicado é ínfima, boiando no limiar dos seis ou sete - que são, a meu ver, os leitores do Pato Macho.
Mas por que Pato Macho, você deve se perguntar. É uma singelíssima (como diria o Augusto dos Anjos) homenagem. Isso talvez já tenha sido dirimido em posts anteriores mas (não me lembro) enfim. Quem procura por "Pato Macho" no Google sabe a resposta quando encontra este blog nos resultados. Porque ele procura por outro pato, que é o original.
O original que, segundo os seus editores, não era o original, viveu em Porto Alegre em 1971. O primitivo, no século XIX, era do tempo da imprensa de tipografia.
Descobrimos o Pato Macho gaúcho na faculdade de Comunicação. Nosso professor de Lingua Portuguesa era o Tatata Pimentel, ou Prof. Roberto Pimentel, de saudosa memória. Ele era um dos donos (junto com o estilista Rui Sommer, precocemente falecido) do mitológico Encouraçado Butikin, local onde a publicação nasceu, há mais de quarenta anos. Também se tornaria colaborador do semanário.
Quando cursávamos jornalismo, nos anos 90, descobrimos o Pato. A coleção do tablete porto-alegrense, que durou apenas quinze edições, era difícil de achar. Existe uma coleção no Museu Hipólito da Costa, mas acessível apenas à quem se dispusesse a ler no local. E a dele.
Com o falecimento do Prof Tatata, parte da biblioteca dele passou a integrar o acervo da PUCRS. De posse do seu acervo, o Núcleo de Pesquisas de Ciências de Computação da Universidade teve a feliz ideia de digitalizar em formato PDF todos os exemplares que foram à lume no distante ano de 1971.
O link é esse: http://eusoufamecos.uni5.net/nupecc/conteudo/acervodigital/patomacho/
--------------------
O Pato Macho nasceu em 14 de abril de 1971. Era um projeto capitaneado por Luís Fernando Verissimo, Cói Lopes de Almeida, Cláudio Ferlauto e o Pinheiro Machado, vulgo Anonymus Gourmet. Tinha 23 páginas e era, como vocês já sabem, um semanário. Além deles, havia um extenso time de colaboradores que, na época, ainda eram pouco conhecidos, como Moacyr Scliar, Ruy Carlos Ostermann, Assis Hoffmann, Carlos Nobre. Enfim, muita gente que trabalhava em agências de propaganda da capital e já militava na grande imprensa, mas que não podia falar de tudo lá.
Inspirado no Pasquim, o jornal tentou criar, à sua maneira, aquele mesmo espírito irreverente da publicação carioca. Mas o Pato esbarrou em várias frentes de batalha que hoje pareciam risíveis, como a pressão de uma sociedade provinciana (mais do que é hoje, mas nem tanto) e a censura propriamente dita, que não aceitava que uma publicação com essa linha editorial pudesse existir.
Claro que havia outro problema, que era a capacidade de auto-gerenciamento, já que, de certa forma, seus editores não dependiam do jornal para sobreviver - e esse é o grande problema do jornalismo feito por jornalistas. Exemplos de experiências geniais e efêmeras foram protagonizadas por esse modelo, como o Diário do Sul (e o próprio Pasquim, que sobreviveu talvez pelo fato de ser carioca), por exemplo. Mas, como lembro de ter ouvido o Tatata dizer (talvez tentando explicar não explicando) que se ele não fosse efêmero, ele não teria sido o que ele foi.
------------
A redação do Pato era improvisada, não tinha um número de colaboradores fixo ou pré-determinado, todos eram amigos e frequentavam os mesmos lugares. Luís Fernando, Ostermann e Carlos Nobre trabalhavam na Folha da Manhã, a doidivana da Companhia Jornalística Caldas Júnior. existe uma produção acadêmica recente e interessante sobre o jornal, mas a grande experiência se dá a partir de agora, quando todos podem ter acesso aos jornais e analisar por si mesmos o que foi aquele curioso semanário.
A primeira coisa que chama a atenção é o projeto gráfico. Ainda hoje, aquele tipo de diagramação propositalmente canhestra, cheia de vazamentos e com várias faces de tipo e ligeiramente assimétrica parece original. A outra são os anúncios, a maioria de estabelecimentos que não existem mais. Mas, curioso observar que é incrível imaginar que o Pato não pudesse sobreviver -- ou ter sobrevivido mesmo a despeito da enorme quantidade de anúncios por edição.
A terceira coisa é a qualidade da produção textual (ainda mais se comparada com hoje), tentativas de fazer grandes reportagens, matérias-paródia, artigos a la Pasquim versando sobre cultura, literatura e cinema, um correio sentimental (Odete de Crècy, pseudônimo do proustiano Tatata) e muito cartum (muita coisa que Nobre e Veríssimo ensaiavam na Folha).
Fora a filosofia do Simandol. Essa era a forma hedonista de suportar o que era o sufocante provincianismo de Porto Alegre dos anos 70, talvez tão sufocante ou mais estanque do que a própria censura por si só. O Simandol era aceitar que a única forma de escapar à esse marasmo cultural da cidade era ir embora daqui. O jeito era encher a cara ou literalmente "se mandar". Essa era o protesto, ou a forma de resistência do jornal. Em algumas edições, eles brincam com uma tal "enciclopédia Simandol" que vale a pena a leitura.
Creio que, nas entrelinhas, isso incomodava o estabilishment do nosso burgo açoriano. Até porque os motivos pelos quais a Censura caiu sobre o Pato não foram de cunho político (até porque, na sua origem, o PM não tinha estritamente a intenção de ser político, falando até, mas de forma um tanto pragmática e bem humorada, de futebol, entrevistando os técnicos Oto Glória, do Grêmio e Daltro Menezes, do Inter). O estopim foi uma crítica de Cói Lopes de Almeida a Aline Faraco, então esposa do Reitor da UFRGS, Eduardo Faraco.
Ela não gostou da citação e reclamou com o marido que, por coincidência, era o cardiologista do Presidente da República, Emílio Médici. Imagine...
Por conta disso, desde a sua terceira edição, o Pato começou a sofrer censura prévia. Isso pode se notar pela esparsa objetividade dos textos a partir dali, muitas vezes querendo dizer alguma coisa que não se sabe o que é. Como diz a bailarina do filme Luzes da Ribalta: como é triste ser engraçado...
Por outras, o próprio Simandol é a chave para criticar aquilo que podia ser criticado. O marasmo, o provincianismo podiam ser o sparring dos editores do semanário. Mas, naturalmente, era inaceitável para a inteligencia porto-alegrense que existisse, entre bares e mesas da cidade um politiburo de jovens (quem sabe...de repente... até comunistas?) pensando juntos. Isso sim era inaceitável.
A censura prévia ao Pato Macho mostra o que era a censura a um jornal alternativo, quando interpretamos aquilo que foi publicado. O que foi publicado saiu porque alguma coisa havia sido proibida. é visível que há, a partir da terceira edição (quando ocorre a efeméride com a mulher do Reitor) que existe uma falta de rumo, que muita coisa parece que foi impressa para tapar buraco. E muitos dos editores falam hoje que a censura era pesada. às vezes, era preciso rechear quase a metade de um boneco inteiro pronto à ir para o prelo, esse recheio composto por traduções de contos do Garcia Marquez (como na edição 09), por exemplo.
A censura, do ponto de vista editorial, era uma questão de vida ou morte. O Pato esgotava sucessivas edições, mas ter uma edição impressa censurada matava os alternativos aos poucos, como foi o caso de outro semanário, o Movimento. Ao mesmo tempo, havia a pressão aos anunciantes. Por um lado, ou eram ameaçados por patrocinarem aquelas publicações; por outro, temiam ser associados à jornais que tinham o estigma de "subversivos" mesmo que não fossem, e esse era o caso do PM.
Lendo, hoje, é incrível imaginar que havia um ódio fecundo, por parte de militares e de boa parte da sociedade gaúcha contra isso. enfim, além da censura ideológica, há a censura "econômica".
O Pato original parece aquela conversa de bêbados num bar (no caso, o Butikin, na Indepê dos anos 70, que era um dos "personagens" do pasquim gaúcho) do tipo: "vamos fazer um jornal?" e que acabou sobrevivendo à ressaca do dia seguinte. E virou um "diário coletivo de grupo", sem preocupação com uma linha editorial definida, não como um jornal popular, ou com essa pretensão (assim, de certa forma, como o Pasquim, que vendia a "sua" verdade).
Todavia, como observa a professora Aline Strelow num interessante trabalho *, reinava o caos administrativo. Ou você edita, ou você produz. Nesse meio tempo, sem um departamento de vendas, o jornal empatava na venda em banca. Quando empata, ele ainda se sustenta; quando você começa a pagar para produzir, aí a publicação começa a fazer água.
Por isso, a censura poderia não ter papel capital nesse processo. No máximo ou no mínimo, de broxar a pauta. Mas, como podemos ver nas quinze edições, ele morreu prenhe de (boa) publicidade.
Resta saber no que redundava a caixinha do departamento comercial. Ao mesmo tempo, nessa linha de "diário de grupo"< a pauta fechava-se em si mesmo, a falta de novidade, a falta de contato com o público, esses fatores também apressaram o desaparecimento do Pato.
Porém, a respeito desse hermetismo editorial do "grupo", é importante estabelecer uma comparação com o Pasquim. Este, por sua vez, não tinha dificuldade em promover ou se auto-promover a vida da ipenemia dos tempos do desbunde carioca do começo dos anos 70.
O ipanemismo era produto de exportação. Por sua vez, a auto-promoção à la pasquim do desbunde porto-alegrense era um coice curto: não era promocional e, ao mesmo tempo, desagradava a elite conservadora da cidade, o seu alvo principal.
Ou, evitando cair no clichê fácil, o Pato Macho estava ligeiramente à frente do seu tempo. Ou, aderindo ao clichê fácil, longe demais das capitais.
O que ficou, se pudermos falar numa teoria do Pato Macho, era a roleta russa do jogo do Simandol. O jornal dispunha de um tabuleiro para recortar, que era como o Jogo da Vida: à medida em que você avançava, tinha a oportunidade de vencer e ficar; ou de perder e ir tentar a sorte em outro lugar. Ou seja, no fim, a derrota não era uma derrota de todo, e vice-versa.
E o que eles queriam, como salienta Aline, é que as coisas mudassem por aqui para que eles pudessem permanecer em Porto Alegre.
Olhando pelo retrovisor da história, essa coleção preservada é um inefável documento do que era a vida noturna da boemia bem vestida do começo dos anos 70 em Porto Alegre, numa época em que o "in" na cidade era a avenida Independência e adjacências, com seus bares, boates (Baiúca, Le Locomotive, Whisky a Go Go) e o Teatro Leopoldina que, aliás, ficava na frente do Butikin. O DJ Claudinho Pereira, decano da discotecagem na cidade, lançou um livro, há alguns anos, contando um pouco da história dessa boemia com fumos de neo-belle epoque. Vale a pena a leitura.
No fim, o grupo do Pato, no jogo do Simandol, venceu e perdeu: perdeu o jogo, com o fim do semanário, mas manteve a estética militando na imprensa e no circuito cultural da cidade a partir de então.
Do status de iniciantes e desconhecidos (cabe lembrar que eles não gozavam da fama de hoje. Se não, o jornal talvez sobrevivesse), mesmo que de maneira híbrida (e com o fim do "primeiro" Encouraçado, em 72, e que separou o clã), eles tornaram-se figuras importantes na cena local e nacional.
* Aline Strelow, Pato Macho, Jornal alternativo de humor. PUCRS, Porto Alegre, 2004, 69 p.